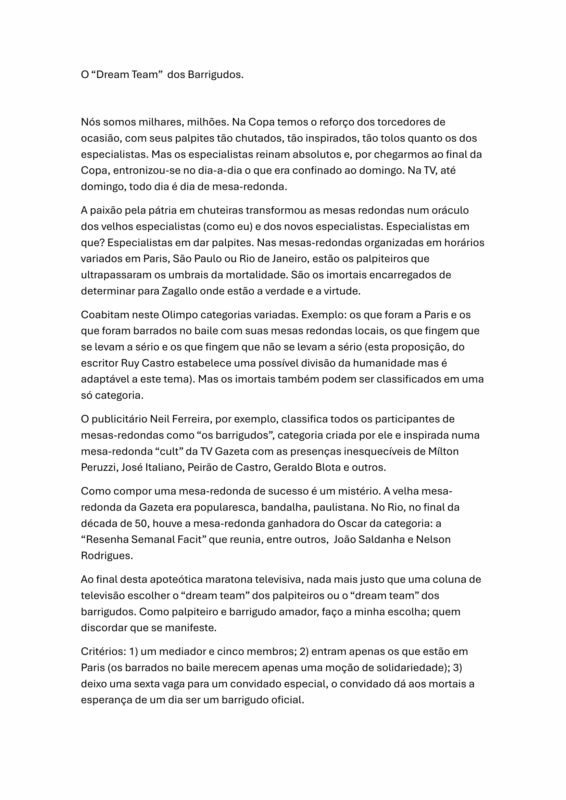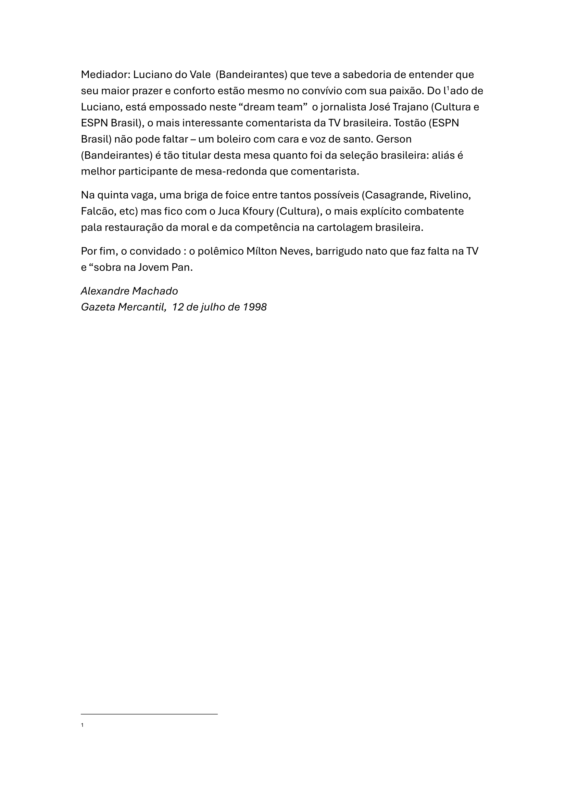No dia 7 de novembro de 2024 coloquei no Facebook uma mensagem que lembrava que Neil tinha partido sete anos antes. Pouco tempo depois recebi um áudio do Itagiba transmitindo grande emoção e lembrando com carinho do amigo e parceiro de muitos trabalhos.
“Tantas coisas aconteceram nestes sete anos. Hoje tenho uma netinha, a Valentina, que é a coisa mais linda. Mas cheguei à conclusão de que a vida seria mais fácil se o Neil ainda estivesse por aqui. Nos almoços em que nos reuníamos frequentemente ele era o otimismo ambulante. Depois de uma reunião com o dono da Arisco, nosso cliente, que estava triste com a situação da economia, ele disse: Está tudo esquisito mas veja, o caminhão da Sadia continua entregando os produtos deles. Uma mente brilhante. A alegria que ele trazia para nossos encontros! Com a ida do Neil fiquei um cara mais solitário. Os amigos otimistas que geram palavras boas são muito importantes. Que falta o Neil faz!…. Eu ia sempre com o Neil aos jogos do São Paulo. A gente ia na Kombi da produtora. Ele ia na frente com o Mané, o motorista que trabalhou comigo por 30 anos, e a Kombi lotada de moleques, todos amigos do meu filho. Um dia a gente estava cortando caminho pra chegar mais cedo no meio de umas favelas; a Ju ligou pro Neil e ele falou pra ela: “Ju, Ju, avisa que estou sendo sequestrado!” Cada tirada! Chegava na produtora e pedia – tem suco de avião por aí? A reação dele era sempre engraçada, inesperada. Nós lançamos a Mariana Ximenes. Ela foi escolhida pelo Neil para fazer os anúncios da palha de aço Assolan (*vídeo abaixo). Para provocar o garoto Bombril. Ela foi contratada por 4 mil reais por mês, com contrato com a Arisco, assinado pela mãe dela. O Beto Brant dirigiu os filmes. Ele adorou a atuação dela e a convidou para participar de “O Invasor”, longa-metragem com Paulo Miklos. Este filme deu uma projetada nela e a Globo, através da Guta, convidou Mariana.”
Foi então que pedi autorização para trazer para o site trechos do livro “Segredos de Camarim” no qual Itagiba relata casos interessantes de sua longa e produtiva carreira como comunicador e produtor de comerciais. Selecionei os episódios nos quais Itagiba fala do Neil.
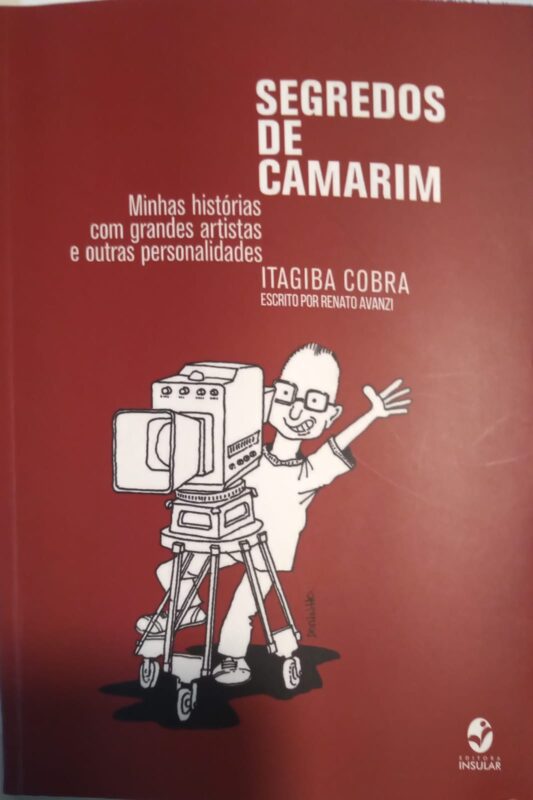
livro Segredos de camarim de Itagiba Cobra
NEIL FERREIRA – CRIATIVIDADE À FLOR DA PELE
Neil Ferreira é uma dessas pessoas que entram na vida da gente e nunca mais saem, mesmo depois de terem ido embora sem se despedir.
Ele começou sua carreira profissional nos Diários Associados, uma das grandes redes de comunicação do Brasil, criada em 1924 por Assis Chateubriand.
Trabalhava como office-boy (o que equivale hoje ao motoboy, mas sem moto) na sede paulista do grupo que ficava no centro de São Paulo/SP, à Rua Sete de Abril.
Na mesma rua, de 1951 a 1970 funcionou a Escola Superior de Propaganda e Marketing, hoje ESPM, por onde passaram alguns dos mais importantes profissionais da propaganda brasileira. Apesar de Neil ter uma inclinação para o jornalismo, que o levou dos Diários Associados para a Folha de S. Paulo e para o Jornal do Brasil, os ares da convivência com o mundo dos comerciais e seus protagonistas acabou desviando sua carreira para a propaganda em 1964, quando começou a trabalhar como assistente do Roberto Duailibi, na então Standard Propaganda. Na verdade, a mudança não foi tão radical quanto parece, porque o universo do Neil era formado pelas palavras que brotavam da sua mente privilegiada, tanto nos editoriais, como nos comerciais. Ele era um mestre das ideias, das analogias, dos slogans. Neil foi, sem dúvida alguma, um dos maiores criativos da sua geração. De 1964 a 2002, quando decidiu deixar a propaganda e se dedicar à produção de crônicas e alguns freelancers, Neil produziu algumas das mais impactantes campanhas da história da mídia brasileira e, tenho certeza, ao menos uma delas você conhece bem: o Leão do Imposto de Renda. Este símbolo criado para a Receita Federal em 1978 existe até hoje e transformou o leão no símbolo nacional dos impostos.
Vou citar mais algumas criações famosas, algumas que você deve se lembrar também: o baixinho da cerveja Kaiser, o garotinho de olhos vendados identificando o “S” de Sadia no presunto e a morte do “Orelhão” da Telesp, que era a empresa proprietária dos telefones públicos de rua.
Daria para escrever vários livros apenas sobre a vida e a obra de Neil Ferreira, mas eu vou me concentrar na nossa amizade e no que desenvolvemos juntos para a comunicação da Arisco.
Por volta de 1994, eu já trabalhava produzindo comerciais para a Arisco quando recebi a notícia de que o Neil Ferreira começaria a criar algumas campanhas para ela. Eu só o conhecia a distância, apesar da enorme admiração que nutria pelo trabalho dele.
Procurei um amigo comum, o Luiz Cassino, um excelente diretor de arte que era extremamente próximo ao Neil, para que ele facilitasse o nosso encontro e aproximação. Quando nos apresentamos pela primeira vez, Neil usou da sua tradicional franqueza e me disse: “Estou acostumado a fazer filmes com outros diretores, mas vou dar uma chance a você de trabalharmos juntos. Eu preciso de um jingle para o comercial que eu criei com a Xuxa e as Paquitas jogando futebol no Maracanã. Se você me apresentar algo realmente bom, passaremos a trabalhar juntos”.
Essa foi a deixa para que eu pudesse mostrar do que era capaz e desse início a uma fantástica parceria com Neil que durou até o dia em que ele nos deixou, como costuma dizer o Rolando Boldrin, “Antes do combinado”.
Saí desse encontro animado e fui direto falar com o Thomas Roth, outro grande amigo e fantástico compositor, dono da produtora Lua Nova. Dividi com ele a responsabilidade de criar um jingle excepcional, do tipo “Chiclete” que gruda na orelha e não sai, para colocar na produção do vídeo que eu pretendia fazer com o Neil.
Pouco tempo depois, o Thomas produziu o jingle “Estou assim com Arisco, estou assim com você” e eu fui fazer a apresentação, O Neil ficou de boca aberta com as ideias e com a capacidade da música para ficar na cabeça sem dar trégua para o cérebro.
Estávamos às vésperas da Copa do Mundo e partimos imediatamente para a gravação do comercial no Maraca. Foi uma festa. A propaganda se transformou no grande hit do momento,alcançando um sucesso que foi aproveitado em muitas outras ações de comunicação.
O casamento entre as ideias foi tão proveitoso, que Xuxa passou a fazer parte constante de todos os comerciais da Arisco, a tal ponto que os boatos corriam soltos, supondo que ela fosse uma das acionistas da Arisco.

Itagiba Cobra
Este foi o momento mágico que me aproximou do Neil e deu início a uma amizade verdadeira, franca, duradoura e extremamente produtiva. Não paramos mais de trabalhar juntos.
Mais ou menos nesta época o Júnior, dono da Arisco, decidiu entrar no mercado de amido de milho. Em apenas alguns meses ele importou maquinário e deu início à produção. Era necessário um lançamento em alto estilo, capaz de desbancar a toda poderosa Maizena, para conquistar alguns pontos percentuais de market share.
O ponto-chave desse lançamento era a embalagem, cuja cor predominante era baseada no amarelo da maizena. A Refinações de Milho Brasil, dona da marca, entrou com um processo para que o produto fosse retirado do mercado até que as embalagens fossem modificadas e ficassem muito diferentes da tradicional “Amarelinha”. O desafio que já era gigante passou a ser imensurável. Como vender amido de milho no mercado de um jeito completamente diferente, quando o próprio produto só é conhecido pela marca do concorrente: Maizena. Este era mais um daqueles casos em que as marcas se tornam sinônimos de categorias, assim como Gilette, Cândida e Bombril, só para citar algumas.
Mais uma missão entregue ao super Neil. Numa manhã ele me chama e diz: “Eu preciso que você encontre uma escola com uma sala de aula muito bonita para gravarmos o novo comercial da Arisco”. Lá fui eu atrás de uma locação e encontramos o espaço ideal.
Partimos para as gravações. A cena era a seguinte: soa o sinal para o início da aula, as crianças correm para a sala e sentam-se em suas cadeiras. Neste momento, Pedrinho levanta a mão e pergunta: “Professora, eu tenho uma dúvida”.
A professora atenciosa cede espaço para a formulação da pergunta: “Eu estou vendo aqui no Dicionário do Aurélio (antecessor do Google) que o significado de Maizena é amido de milho. Então quer dizer que se a minha mãe comprar amido de milho da Arisco ela está comprando Maizena?”.
A professora com toda a tranquilidade e sabedoria responde: “Claro Pedrinho. Ela está comprando maizena”. E o filme terminava com a assinatura: “Amido de milho Arisco, a maizena da Arisco”.
O comercial foi para o ar, tornou-se um grande sucesso, conquistou uma fatia considerável do mercado de amido de milho e os advogados da Refinações ficaram sem novos argumentos para ação, porque o julgamento dos processos foi feito com base na descrição do dicionário Aurélio, que era uma referência definitiva para as nuances da língua portuguesa.
Mais uma vez Neil moldou as palavras e esculpiu uma verdadeira obra de arte para a história da propaganda brasileira.
No final da década de 1960, o Brasil vivia um momento bastante delicado para a liberdade de imprensa e as comunicações de um modo geral, porque a censura imposta pelo regime militar limitava bastante a livre expressão do pensamento.
Tudo o que se produzia passava por um filtro extremamente fino que retinha em sua trama qualquer conteúdo que não fosse insípido, inodoro e incolor como a água. Já era, talvez, o início da sociedade líquida, ou da modernidade líquida que foi imortalizada bem depois, em 1999, por Zygmunt Bauman.
Neste centro para escapar das limitações impostas, a melhor criatividade no jogo das palavras e boas estratégias das imagens. Exatamente as características nas quais Neil era um mestre e sabia utilizar como ninguém.
Foi assim que surgiu a ideia de lançar para o mercado da propaganda brasileira “Os Subversivos”, um grupo de criativos contratados pela agência Norton liderada por Geraldo Alonso Entre os “militantes” deste grupo estavam Neil Ferreira, Jarbas José de Souza, José Fontoura da Costa, Aníbal Guastavino e Carlos Wagner de Moraes.
O lançamento se deu com a veiculação de anúncios de página inteira nos jornais e páginas duplas em revistas, mostrando os cinco subversivos da propaganda empunhando suas armas formadas por máquinas de escrever e réguas “T”, instrumentos modernos na época, utilizados para escrever e arte-finalizar ideias.
O texto dessas propagandas comentava as “Armas terríveis que eles têm nas mãos” e continuava com uma provocação: “São armas que podem abalar governos”. Seguia dizendo que aqueles homens eram capazes de mudar a história do país e de qualquer produto.
Não é difícil imaginar que uma provocação desse tipo incomodaria as estruturas do regime militar. Para quem viveu este período, o simples fato de ler o que estava escrito já produzia um frio na espinha e um medo pela integridade alheia.
Geraldo Alonso foi convocado para uma visita cordial ao DOPS, onde era aguardado para fornecer explicações detalhadas sobre aquilo que parecia ser uma “conspiração” contra a ordem pública. Apesar do convite, ele não compareceu. Seus advogados foram em seu lugar e forneceram as explicações necessárias para acalmar os ânimos e esclarecer o mal-entendido
De qualquer forma, se para os militares a rebelião ficou justificada, para o mercado a revolução estava apenas começando. Os “Subversivos” de fato subverteram a ordem das coisas e começaram a produzir campanhas revolucionárias, tanto em termos de textos, quanto de imagens.
A linguagem da propaganda, neste momento, sofreu um abalo e deu um salto qualitativo, passando a colocar o Brasil no cenário da comunicação mundial, atraindo a atenção e conquistando prêmios que antes não eram sequer cogitados.
Neil e seus parceiros de combate deram início a uma guerra contra a mesmice e a própria censura, produzindo peças que desafiavam a imaginação e explodiam em criatividade.
Apesar da genialidade e da posição de destaque que ocupava, o Neil era bastante simples e respeitava todas as pessoas pelo que elas eram e não pelo que elas faziam. Durante algum tempo eu pedi ao motorista da minha produtora, o Mané, que ficasse à disposição do Neil para pegá-lo em casa na Granja Viana, com a perna quebrada, e o levasse para as reuniões ou onde mais ele precisasse. Em poucos dias ele conquistou o Mané e já se tornaram bons amigos.
Relacionadas:
Itagiba Cobra